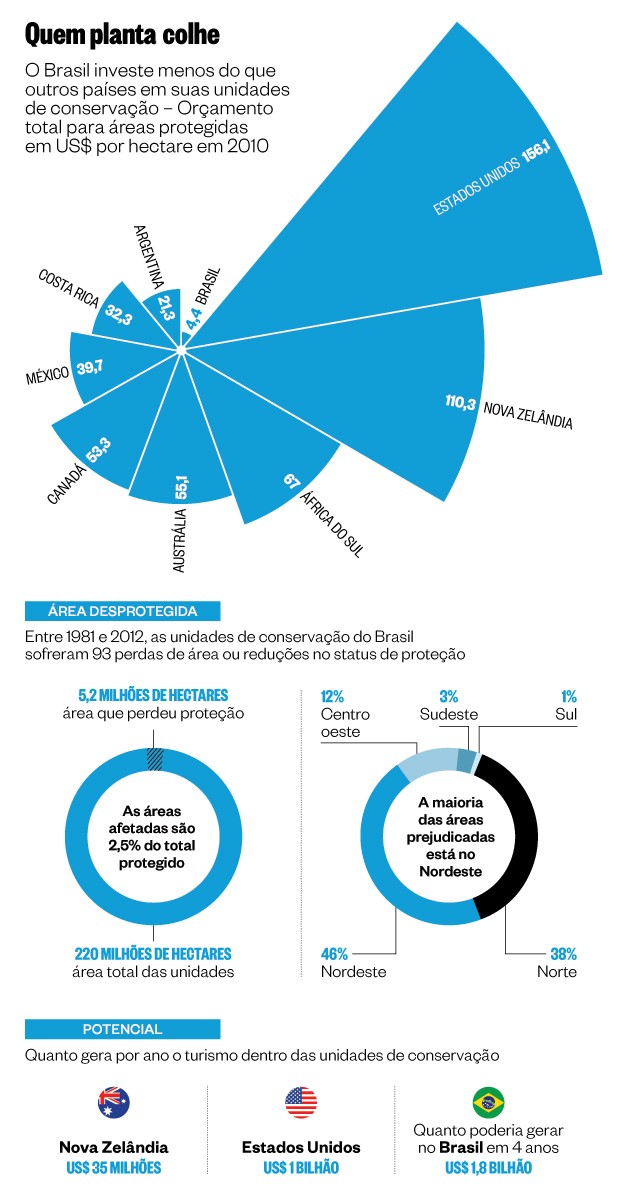- Mais de 40 pesquisadores brasileiros e britânicos se unem em força-tarefa para estudar áreas alteradas pelo homem na Mata Atlântica e na Amazônia
Entender como a crescente ocupação da floresta tropical pelo homem poderá impactar a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e o clima local e global é o principal objetivo do Projeto Temático “ECOFOR: Biodiversidade e funcionamento de ecossistemas em áreas alteradas pelo homem nas Florestas Amazônica e Atlântica”, que reúne mais de 40 pesquisadores brasileiros e britânicos.
A pesquisa é realizada no âmbito do programa de pesquisa colaborativa “Human Modified Tropical Forests (Florestas Tropicais Modificadas pelo Homem)”, lançado em 2012 pela FAPESP e pelo Natural Environment Research Council (NERC), um dos Conselhos de Pesquisa do Reino Unido (RCUK, na sigla em inglês).
Serra da Mantiqueira
A equipe, formada por 16 pesquisadores seniores, seis pós-doutorandos, 12 colaboradores e nove estudantes, esteve reunida pela primeira vez entre os dias 26 e 29 de março na cidade de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba (SP).
“Nessa primeira reunião, definimos detalhadamente os protocolos de trabalho. A ideia é que todos os dados sejam gerados com a mesma metodologia, de forma que seja possível integrá-los em um modelo do impacto da fragmentação sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.
Foi o grande pontapé inicial do projeto”, contou Carlos Alfredo Joly, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e coordenador do Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade (BIOTA-FAPESP).
De acordo com Joly, toda a coleta de dados será realizada no Brasil. A equipe brasileira estará concentrada principalmente em regiões de Mata Atlântica situadas na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, enquanto a equipe britânica centrará seu foco na Floresta Amazônica. Já a análise e a interpretação dos dados serão feitas de forma compartilhada tanto no Brasil como no Reino Unido.
Serra do Mar
“A ideia é ampliar significativamente a participação de estudantes brasileiros na pesquisa, que abre um leque de opções para trabalhos de mestrado e doutorado com alta possibilidade de realização de estágios no Reino Unido”, avaliou.
Segundo Jos Barlow, pesquisador da Lancaster University (Reino Unido) e coordenador do projeto ao lado de Joly, alguns estudantes britânicos também planejam fazer pós-doutorado em instituições paulistas.
“Os alunos e pós-doutorandos do Reino Unido vão precisar passar bastante tempo no Brasil, onde será feita toda a coleta de dados. Ou então focar seu trabalho na análise de dados de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas (SIG). E, claro, os resultados serão publicados em conjunto, com a liderança vinda de ambos os países”, disse.
Malásia
Bornéu
O trabalho de investigação na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica correrá em paralelo a outro projeto financiado pelo NERC desde 2009 em Bornéu, na Malásia. Nesse caso, o objetivo é estudar e comparar áreas de floresta primária (bem conservadas), áreas com exploração seletiva de madeira e regiões que sofreram profunda fragmentação.
“Dentro do possível, os dados gerados aqui no Brasil deverão ser comparáveis aos dados gerados na Malásia. Para assegurar essa integração foi estabelecido um comitê que reúne pesquisadores dos dois projetos”, contou Joly.
“Não seguiremos exatamente o mesmo desenho da pesquisa desenvolvida na Malásia, pois aqui temos situações diferentes. Mas os dois projetos visam estudar como as mudanças no uso da terra, que inclui extração de madeira, queimadas e fragmentação do habitat, alteram o funcionamento da floresta tropical, principalmente no que se refere à ciclagem de matéria orgânica e de nutrientes. Também queremos avaliar como essas alterações estão relacionadas com os processos biofísicos, a biodiversidade e o clima”, explicou Simone Aparecida Vieira, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) da Unicamp.
De acordo com Vieira, a equipe brasileira adotou o Parque Estadual da Serra do Mar como uma espécie de “área controle” da pesquisa e os dados lá coletados pelo Projeto Temático Biota Gradiente Funcional serão comparados com as informações oriundas dos fragmentos e das florestas secundárias existentes na região que vai de São Luiz do Paraitinga até a cidade de Extrema, em Minas Gerais.
“Na Amazônia, temos um grande conjunto de áreas em estudo. Um dos focos é a região de Paragominas, que tem um histórico de extração madeireira. E inclui também Santarém, onde vem avançando a agricultura, principalmente a soja”, contou Vieira.

Os pesquisadores farão inventários florestais, coletando dados como quantidade de biomassa viva acima do solo, densidade da madeira, diâmetro e altura das árvores, quantidade de serapilheira (camada formada por matéria orgânica morta em diferentes estágios de decomposição) e diversidade de espécies vegetais e animais.
“Um dos objetivos é investigar o estoque de carbono nessas áreas e de que forma ele é alterado com os diferentes usos. Depois vamos relacionar esse dado com a mudança em relação à diversidade de espécies que ocorrem nessas áreas, trabalhando principalmente com um levantamento de espécies de árvores e de aves”, explicou Vieira.
A coleta de dados deve seguir pelos próximos quatro anos. Na avaliação de Vieira, está sendo criada uma estrutura que poderá ser mantida após o término do projeto, se houver novo financiamento. “O ideal é acompanhar os processos de mudança no longo prazo para entender de fato como essas áreas estão se comportando diante das pressões humanas e das mudanças climáticas”, disse.
Joly concorda. “O projeto vai estabelecer uma rede intensiva de monitoramento de áreas que vão desde florestas intactas até florestas altamente fragmentadas e alteradas pelo homem. Isso permitirá avaliar as correlações entre biodiversidade e funcionamento de ecossistemas, tanto na escala local como regional e global – quando estiverem integrados os dados da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica e da Malásia”, disse.
Os resultados obtidos, acrescentou Joly, permitirão também o aperfeiçoamento de políticas públicas para promover o pagamento de serviços ambientais, como os de proteção a recursos hídricos e de estoques de carbono.
Entre as instituições envolvidas na pesquisa estão Lancaster University, University of Oxford, University of Leeds, Imperial College London, University of Edinburgh, Unicamp, Universidade de São Paulo (USP), Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidade de Taubaté e a Fundação Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
Resumo:
ECOFOR: Biodiversidade e funcionamento de ecossistemas em áreas alteradas pelo homem nas Florestas Amazônica e Atlântica

As Florestas Tropicais detêm metade do estoque de carbono na vegetação do mundo e produzem 34% da produtividade bruta primária em sistemas terrestres em todo o planeta, o que representa a maior contribuição para a produtividade da Terra de um único bioma e é representa quatro vezes a contribuição das florestas boreais e temperadas combinados. Ao mesmo tempo, as florestas tropicais detêm altos índices de biodiversidade, constituindo-se em hotspots para quase todos os grupos de plantas e de animais. Mesmo assim, são altamente ameaçadas por atividades humanas, apresentando taxas de desmatamento de 8 - 10 milhões de hectares/ano" de 2000 a 2010. As florestas remanescentes já foram degradadas pela sobre-exploração de madeira e de recursos não madeireiros, pela fragmentação e o consequente isolamento e efeitos de borda, e pelas mudanças climáticas globais. A degradação florestal resulta em um contínuo declínio nos serviços ambientais decorrentes dos níveis crescentes e insustentáveis dos impactos humanos. Entretanto, a maioria das pesquisas sobre a contribuição de Florestas Tropicais para o sistema Terra concentrou-se em habitats conservados, geralmente pouco alterados, sendo impossível extrapolar os resultados, por exemplo, de ciclagem de nutrientes e estoques de carbono, destas áreas pristinas para Florestas Tropicais modificadas pelo homem (HMTF).
Cinco áreas de pesquisa científica precisam, urgentemente, abordar as seguintes lacunas: i) Impactos das alterações humanas sobre o funcionamento do ecossistema, especialmente ciclagem de matéria orgânica, nutrientes e as relações entre os processos biofísicos, a biodiversidade, o solo e o clima; ii) conectar o funcionamento do ecossistema e caracteres biológicos, que podem fornecer pistas sobre a estabilidade e a resiliência das florestas degradadas; iii) compreender a capacidade de generalização dos dados, isto é, até que ponto resultados obtidos em uma dada Floresta Tropical podem ser extrapolados para florestas em outros continentes; iv) compreender o impacto e as consequências das alterações humanas a nível de paisagem e tempo, multi escalas espaciais e temporais; v) reduzir a distância e o tempo entre a ciência e a tomada de decisão política. Este projeto visa proporcionar uma mudança radical em nossa compreensão das consequências da degradação florestal para a biodiversidade e os processos ecológicos associados e serviços ambientais na Amazônia e na Mata Atlântica.
O Projeto visa: 1) estabelecer a primeira rede de sites de estudo intensivo e acompanhamento a longo prazo, ao longo de um gradiente de florestas intactas e alteradas na Amazônia, e melhorar significativamente a rede de sites de áreas alteradas e intactas na Mata Atlântica; 2) complementar este sites de estudo intensivo com uma rede de parcelas em diversas microbacias na Amazônia e na Mata Atlântica, quer permitirá extrapolar dados de biodiversidade, estoques de carbono e serviços ambientais para o nível da paisagem; 3) desenvolver uma visão integrada ao longo de gradientes de alteração humana, que permita uma abordagem multi-escalar espacial e temporal. O projeto focará quatro tipos de floresta ao longo de um gradiente de perturbação amplo, incluindo os dois processos predominantes de degradação: corte seletivo e incêndios. O estudo intensivo será realizado em dois conjuntos de parcelas: as parcelas Programa Biota no Parque Estadual da Serra do Mar da porção nordeste do estado de São Paulo, e parcelas na região de Santarém-Belterra na Amazônia. Os resultados esperados vão contribuir significativamente com o estabelecimento de hipóteses sobre as consequências funcionais de mudanças em comunidades de plantas e pássaros, aqui utilizados como indicadores de biodiversidade, após alterações humanas em florestas tropicais. O projeto vai deixar um legado importante, tanto em conhecimento como em e infraestrutura, que vai continuar contribuindo com o avanço de nossa compreensão das HMTFs após a conclusão deste estudo, uma vez que as parcelas estudadas passarão a ser utilizadas para o monitoramento de longo prazo na Amazônia e na Mata Atlântica. No âmbito desta chamada específica NERC-FAPESP HMTFs os dados e os resultados serão também comparados com os do Projeto SAFE, na Malásia. (AU)


 Uma pesquisa do Instituto Mamirauá revela que nas florestas inundáveis da Amazônia as onças-pintadas (Panthera onca) permanecem na copa das árvores durante o período da cheia dos rios, que duram cerca de três meses. De acordo com o instituto, desde a semana passada, onças estão sendo avistadas diariamente na copa das árvores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas.
Uma pesquisa do Instituto Mamirauá revela que nas florestas inundáveis da Amazônia as onças-pintadas (Panthera onca) permanecem na copa das árvores durante o período da cheia dos rios, que duram cerca de três meses. De acordo com o instituto, desde a semana passada, onças estão sendo avistadas diariamente na copa das árvores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas.

 Na opinião do pesquisador, a descoberta tem sérias implicações para a conservação da onça-pintada e levanta outras questões sobre o comportamento e a ecologia de grandes carnívoros. “As florestas de Várzea, que foram esquecidas em propostas de conservação para a onça-pintada no passado, são áreas extremamente importantes para esses animais porque abrigam um grande número de espécimes, são áreas de reprodução e também porque os animais que vivem nessa região da Amazônia tem uma ecologia única. Aumentar o número de áreas protegidas na várzea pode ser crucial para a sobrevivência das onças-pintadas na Amazônia”, afirmou.
Na opinião do pesquisador, a descoberta tem sérias implicações para a conservação da onça-pintada e levanta outras questões sobre o comportamento e a ecologia de grandes carnívoros. “As florestas de Várzea, que foram esquecidas em propostas de conservação para a onça-pintada no passado, são áreas extremamente importantes para esses animais porque abrigam um grande número de espécimes, são áreas de reprodução e também porque os animais que vivem nessa região da Amazônia tem uma ecologia única. Aumentar o número de áreas protegidas na várzea pode ser crucial para a sobrevivência das onças-pintadas na Amazônia”, afirmou.